Nessa entrevista, o britânico Alan Moore, especialista em marketing, antecipa seu novo livro, em que esboça o que crê serem os elementos fundamentais da era atual, entre os quais a mentalidade shuffle e a sociabilidade, e explica, com exemplos, “enigmas” como as mídias sociais e a freeconomics. Vamos conhecer o conceito de economia NSL, uma tradução de “No Straight Lines”), ou NSL.
Rupert Murdoch que o perdoe, mas Alan Moore é contundente: quando o “furioso” magnata da mídia, controlador de um império que abarca desde o inglês The Times ao norte-americano The Wall Street Journal, afirma que a jovem geração de consumidores quer tudo de graça e que isso é insustentável, ele está fazendo uma cortina de fumaça para esconder seu verdadeiro incômodo: o de que, na nova economia, o poder está mudando de dono e saindo das mãos dos que muitos descrevem como cidadãos Kane contemporâneos.
 O britânico Alan Moore vem despontando como o arauto da economia e da sociedade não linear (não em linha reta, na tradução ao pé da letra de “no straight lines”), ou NSL, como ele chama informal e sonoramente, e está escrevendo um livro sobre o tema, que deve ser lançado este ano.
O britânico Alan Moore vem despontando como o arauto da economia e da sociedade não linear (não em linha reta, na tradução ao pé da letra de “no straight lines”), ou NSL, como ele chama informal e sonoramente, e está escrevendo um livro sobre o tema, que deve ser lançado este ano.
“Não linear” poderia ser apenas mais um do tantos nomes que os mais diversos especialistas têm dado à nova transição socioeconômica, talvez mais extravagante do que a média, mas carrega um diferencial conceitual respeitável. Enquanto os outros batizam esta era pelos fenômenos sociais e econômicos mais palpáveis, como economia em rede (pelas redes sociais) e sociedade digital (pela tecnologia), Moore se refere a algo maior: a mudança é de mentalidade.
Nessa entrevista a Patrícia Timoner, brasileira que foi por muito tempo acadêmica na Austrália na área de mobile, Moore discorre sobre o mundo NSL, em que a sociabilidade, como habilidade de se socializar, passa a ser uma vantagem competitiva fundamental para profissionais e empresas. Agora, de acordo com Moore, o raciocínio e as ações no modo shuffle –alusão ao modo de tocar músicas em uma sequência aleatória e imprevista em mp3 ou CD players– vão substituindo o paradigma linear dominante até agora, baseado em uma progressão razoavelmente lógica, com causas e consequências. Moore cita diversas empresas que podem ser consideradas exemplares, entre as quais a Local Motors e a Grow VC.
Economia NSL
Você é um grande defensor dessa nova economia em rede e digital. Então, começo nossa conversa pelo ponto mais delicado desse novo paradigma e que deixa nervosos empresários e executivos, que é a expectativa de certos consumidores de que lhes sejam entregues produtos e serviços sem que recebam remuneração em troca. Você acha isso justo, exequível e, acima de tudo, sustentável?
Em minha opinião, o que realmente deixa algumas pessoas nervosas –o magnata da mídia Rupert Murdoch é um dos que compartilham esse nervosismo, irritação e fúria, por exemplo– é a perda de controle que elas têm da sociedade conectada que emerge das tecnologias digitais. Essa conectividade está minando o poder de Murdoch e outros e, assim, lhes é frustrante.
Acho que é um erro presumir que os consumidores esperam tudo de graça. Apesar da abundância de informações que você pode acessar digitalmente sem pagar, a maioria entende perfeitamente que, se deseja algo, tem de pagar por isso. Vejo por meus filhos, de 27, 21 e 12 anos de idade.
Em sites como ebay.com ou itsy. com [especializado em artigos para artesanato], fica evidente que as pessoas transacionam e criam valor de diversas maneiras, nada é gratuito. A gratuidade recebeu atenção excessiva na economia em rede porque muita gente a usou para ganhar visibilidade e momentum no mundo digital.
O conceito de freeconomics é uma forma 1.0 de pensar sobre o mundo e a sociedade conectada, de olhar esse novo paradigma com lentes ajustadas pelo velho paradigma da sociedade industrial. Eu lhe garanto: o fato de os consumidores quererem tudo de graça é só fumaça; o xis da questão é o poder e o controle mudando de mãos.
Esse barulho é principalmente por defesa de interesses?
Sim, natural. Aquelas casinhas ao lado de pequenas pontes sobre riachos e córregos que vemos quando viajamos pela Inglaterra costumavam ser postos de pedágio há 20 anos; pagávamos uma taxa para atravessar pontes. Quando não puderam mais cobrar, você acha que seus donos não fizeram barulho? Fizeram.
Acontece que mudou a percepção de valor na sociedade inglesa que passou achar o pedágio desnecessário duas décadas atrás, e está mudando a percepção de valor na nossa sociedade conectada, onde somos todos comerciantes.
Eu também sou comerciante? Como assim?
Comercializamos nosso tempo, atenção, habilidades e misturamos tudo isso de maneiras distintas e por razões diferentes. Dez anos atrás, Doc Searls [coautor de O manifesto da economia digital, ed. Campus/Elsevier] disse que mercados são conversações, e eu concordo. Pense no que as pessoas fazem em um mercado: trocam conhecimento e informações, transacionam, divertem-se. É tudo conversa. As redes sociais online amplificaram isso.
Lucrando com a economia NSL
Mas como se ganha dinheiro agora?
A ordem é criar valor dentro de sua rede, como faz a Local Motors, montadora automobilística que usa um modelo de negócio do tipo código aberto, ou a Grow VC, companhia de capital de risco com modelo de API [interface de programação de aplicativo, na sigla em inglês] aberto. Essas empresas entenderam que, ao criar um modelo aberto que possibilite a qualquer um entrar e fazer parte daquela economia, estão criando valor. Isso incita a pessoa a dar o melhor de si. O que está em jogo é a possibilidade de redesenhar todo o processo de criação de valor, como o dinheiro entra e sai da plataforma de negócios.
Por que as mídias digitais-sociais são tão mal compreendidas?
Porque muitos ainda não entenderam o que está na raiz de seu sucesso. Acredito que a espécie humana quer renegociar os relacionamentos de poder no modo como trabalhamos, como vivemos, como nos educamos, como somos governados e como negociamos. Queremos recuperar nossa essência de ser humano e o mundo 2.0, conectado, a viabiliza: cooperar e colaborar com os outros, atuar em todas as pontas.
Essa essência foi reprimida pelas empresas nos últimos 150 anos, que nos impuseram o modelo separatista de produtores e consumidores, algo não natural, pois somos multidimensionais. Acontece que, como diz Charles Handy em Além do capitalismo [ed. Makron Books], corporações são extremamente jovens se comparadas com nossas aldeias ancestrais. Eu me refiro às que têm apoiado a humanidade por milênios e que têm essa essência.
Por que tantas empresas enxergam a situação atual quase como um beco sem saída?
Não sei se elas a enxergam assim de fato, mas não faltam excelentes exemplos de outras companhias que estão encontrando as saídas na sociedade conectada, como a varejista norte-americana BestBuy. Observando outras empresas, eles perceberam que muitas delas não estavam acertando o jeito de fazer negócios no mundo conectado e criaram uma figura chamada twelper, ou Twitter helper [auxiliar de Twitter]. Seus funcionários competem para ver quem responde mais rápido às questões dos clientes enviadas por essa rede social. Muda a mentalidade, percebe? Para pôr todos seus funcionários livres no Twitter, você precisa acreditar realmente em competitividade. Todo mundo fala em competitividade, mas um DNA competitivo para valer pressupõe que você, quando trabalha com uma pessoa, queira que ela tenha tanto sucesso quanto você. Os executivos da BestBuy entenderam muito bem a nova mentalidade, assim como a Zappos, onde é obrigatório que todos os funcionários estejam no Twitter. E então você compara essas empresas com outras que proíbem o acesso a redes sociais internamente, até monitoram, censurando, o uso delas pelos funcionários em sua vida pessoal e deixam as mídias digitais alocadas marginalmente como mais um entre tantos processos de negócio. Acabam mantendo um perfil de funcionário condizente com tudo isso.
E qual é o risco de não mudar a mentalidade?
No curto prazo, ocorrem todos os tipos de problema, como a comunicação com os consumidores e a perda de receita. Você não pode ficar vendo seu modelo de distribuição ser destruído pelas tecnologias digitais sentado e de braços cruzados; também não adianta tentar empurrar o gênio de volta para dentro da garrafa, porque infelizmente ele está fora e não há como voltar atrás. Você precisa se levantar e abordar isso.
A Zappos, a Local Motors e a Grow VC são crias da era digital e a BestBuy é muito agressiva em seu marketing. Você não teria uma empresa mais “normal” para dar como exemplo de alinhamento digital?
Sim, a Lego. Ela elevou o conceito de sociabilidade e cocriação com seus clientes a um patamar que lhe permite entregar valor real de diversas maneiras. A realidade, porém, é que muitas empresas continuam sendo concebidas e construídas em torno da mentalidade vigente nos últimos 150 anos, porque é preciso enfrentar os investidores para romper com o velho paradigma.
Desafiar investidor não é agradável…
Não é. Um CEO tem de ser extremamente corajoso para se levantar e dizer: “O modo como fizemos negócios até hoje não faz mais sentido e é preciso repensar a estrutura que utilizamos”. Os investidores institucionais vão lhe perguntar: “Quer dizer que o modo como você tem trabalhado não funciona?”. Ele terá de responder que sim e poderá perder o emprego, além do fato de que as ações da empresa patinarão por um tempo…
Há questões bastante complexas para as empresas, principalmente quando pertencem a investidores institucionais e estes influenciam sua gestão. No entanto, em minha opinião, um CEO responsável não pode deixar de pelo menos levantar essa questão, mesmo que a conclusão seja a de que ainda não é o momento oportuno para mudar o modelo de negócio. O que quero dizer é que essa nova maneira de fazer negócios da sociedade conectada pode não ser fundamental para o processo de negócio hoje, mas, em algum momento, terá de se tornar parte do dia a dia e isso não acontecerá espontaneamente.
O que as empresas mais cautelosas devem fazer?
Em primeiro lugar, elas devem entender que ter uma estratégia digital –de banners, links patrocinados etc.– ou de mídia social –presença no Facebook, no Twitter e por aí vai– é pouco. Agora é necessário que comecem a incorporar sociabilidade. Isso significa que têm de promover e incentivar as pessoas, de dentro e de fora da organização, a ser sociais por compreenderem que isso realmente adiciona valor ao negócio. Esse “agir socialmente” pode funcionar na área de pesquisa e desenvolvimento, como cocriação, ou em uma recomendação de serviços online.
Por que a capacidade de se socializar é tão importante? Será porque, como diz Ted Shelton, é preciso que ideias criem? [risos]
Richard Sennett, no livro O artífice [ed. Record], afirma que, se a habilidade artesanal existir dentro de um sistema de conhecimento fechado, esse ofício tende a morrer de fome, porque, sem diversidade de informações, não há alimentação.
Então, as pessoas –os funcionários– adquirem um novo status de fato, e não de discurso, mediante seus empregadores…
Sim! Digo sempre a empresas e gestores: em vez de ficarem só no balanço de perdas e ganhos, investiguem quais são os recursos que têm que podem se tornar seus verdadeiros trunfos. Jonathan Schwartz, CEO da Sun Microsystems diz que os mil blogueiros da empresa fizeram mais para a Sun do que uma campanha publicitária de US$ 1 bilhão. Então, sua empresa prefere possuir um departamento de marketing de cinco pessoas ou quer contar com 500 funcionários dedicados à atividade e todos eles estão no Twitter, escrevendo blogs ou usando alguma ferramenta de comunicação social?
Sociabilidade impacta a gestão?
Sem dúvida! Na internet, por exemplo, as empresas são realmente bem-sucedidas quando estão conectadas a outras e compartilham dados e informações. Isso pode ser ilustrado pela Rummble, que oferece um serviço móvel que essencialmente se resume a dar conselhos. Todos sabem que nem sempre seu amigo pode lhe dar o melhor conselho.
No Brasil, um estudo do professor Sérgio Lazzarini, do Insper, mostra que a maioria das grandes empresas tem acionistas comuns, que se relacionam diretamente, no que é chamado de mundo pequeno –os lendários seis graus de separação na prática. É uma sociabilidade off-line, entre acionistas. O que você está dizendo é que agora o principal requisito é uma sociabilidade online e de todas as pessoas da empresa?
É uma sociabilidade de todo mundo, mas tanto off como online. Muitas companhias já estão misturando a sociabilidade do mundo off-line com a do online. É um erro fazer como uma empresa que conheço, que usará 50% da verba mundial de marketing anual em estratégias digitais, tirando isso de potenciais iniciativas off-line. Eu a alertei de que está cortando a eficácia de seu orçamento mundial de marketing pela metade.
É isso que as empresas devem fazer para continuar a existir nesta sociedade diferente que se impõe a cada dia?
O fundamental, em minha opinião, é as empresas e os gestores entenderem que o pensamento linear para por aqui. Ele está sendo substituído pela sociedade sem linhas retas [no straight lines society], como a chamo. Hoje já existe um modo de pensar os negócios e processos que é muito mais eficaz, eficiente e sustentável. Meu novo livro é exatamente sobre isso.
A Local Motors é um dos melhores cases atuais desse pensamento não linear, dessa mentalidade em modo shuffle. Ela refez o processo de produção inteiro para entregar um automóvel excelente de maneira leve, sustentável e flexível/adaptável, incorporando as redes sociais em tudo –e não parou para desenvolver uma estratégia de mídia social específica.
Explique como você define os pensamentos linear e não linear nos negócios, por favor…
Sempre que está pensando em uma forma linear, você pensa em padrões, sistemas fechados de distribuição, controle, como obter o máximo no menor tempo possível, os resultados do trimestre. As empresas não lineares nem nos números do trimestre pensam, pelo menos não do mesmo jeito. Elas querem fazer o negócio crescer organicamente, no longo prazo, o que é o oposto de atingir metas de crescimento trimestre após trimestre. Não que não tenham metas, apenas estas não são definidas de maneira tão absurdamente estruturada. Colocam uma pressão terrível sobre as empresas para atuarem com prazos que simplesmente estão errados.
E uma pressão terrível sobre as pessoas, que nas pesquisas se declaram cada vez mais infelizes…
É um sentimento de descontentamento refletido no desafio da construção de nossa identidade neste corrido mundo moderno. E isso não tem acontecido apenas nos últimos 20 anos; vem de longe. Mesmo na virada do século 19 para o 20, os indivíduos já estavam se sentindo desconectados uns dos outros pela escala de mudanças trazidas pela Revolução Industrial.
As pessoas perderam a identidade ou a estão atribuindo mais a objetos do que às conexões com outras pessoas. Prova disso é o crescimento da área de branding, um esforço imenso para conferir autenticidade, valor e significado a objetos. Agora, temos de parar para pensar sobre como vamos viver, trabalhar, comercializar, governar e aprender de maneira mais propícia e pertinente a nós, como seres humanos.
Antidepressivos não resolverão o problema. Insistimos em pensar e agir como a máquina da era industrializada, que é eficiente por definição. No entanto, como alguém já disse, a natureza é muito ineficiente; só que ela é altamente eficaz. Estamos negando a natureza, o que não é bom.
Mas como se começa a cultivar a nova mentalidade?
Empresas e seus gestores têm de responder a quatro perguntas-chave:
- “Como podemos nos tornar mais atraentes a nossos clientes?”
- “Como levá-los a confiar em nós?”
- “Como fazer com que nos recomendem?”
- “Como desempenhar papel significativo na vida deles?”
Essas perguntas correspondem a meu mantra do que deve ser todo produto, serviço ou negócio: habilitador da vida dos consumidores, simplificador de sua vida e navegador [life enabling, life simplifying and navigational].
Habilitar e simplificar a vida podem se confundir. Você pode distingui-los?
A ideia central dos dois gira em torno de lidar com a complexidade da vida das pessoas por meio de serviços para torná-la mais simples. Um exemplo é o site www.custodium. com, que integra e combina informações e documentos para você esquecer de vez os papéis, e ele tanto habilita como simplifica a vida. A diferença é que o serviço do tipo habilitador ajuda as pessoas a fazer coisas, como um serviço que dá um alerta ao consumidor quando chega o produto que ele reservou em uma loja. Os twelpers, da BestBuy, também são habilitadores.
Já o navegador entra aí no sentido de orientar as pessoas na direção certa para que possam descobrir coisas que lhes sejam mais relevantes e úteis no momento. Em paralelo ao mantra, as empresas precisam incorporar o conceito de aprendizado do dia a dia embutido no processo de negócio, ou seja, visto como trabalho produtivo, e não mais algo que você faz duas vezes por ano.
Também o conceito de comunidade, dentro e fora das fronteiras corporativas, tem de entrar de vez na cultura: boa ajuda para isso pode ser a nomeação de um CMO [chief community officer, ou principal executivo de comunidade] para valer. Outra questão importante é que os gestores repensem como sua empresa pode se tornar mais leve, flexível/ adaptável e sustentável, à maneira da Local Motors, como se fossem os próprios advogados do diabo. Isso é necessário para que a empresa possa entender corretamente como as novidades da sociedade conectada funcionam.
Como ficar mais leve, flexível e sustentável?
Por exemplo, em vez de empregarem dinheiro para uma iniciativa, as companhias devem optar por envolver mais pessoas para que colaborem, cocriem, conversem, desenhem o que quer que seja no mundo digital. Não comprometer capital elevado em um negócio faz com que este seja mais leve, flexível e sustentável. Existem vários casos de sucesso decorrentes dessa substituição de capital por gente. Até na tão massacrada área de mídia, vemos o grupo The Guardian, do Reino Unido, trabalhando arduamente para aprender a se adaptar aos desafios que a sociedade e a economia em rede estão apresentando.
Para isso, a ambição de obter economia de escala tem de ser descartada, não?
Sim. Jay Rodgers, da Grow VC, afirma que as economias de escopo substituem as de escala. Pergunte-se: qual é o escopo do negócio, ou seja, qual sua profundidade? Deixe-me contar a história de Lauren Luke, uma jovem do norte da Inglaterra que ficou grávida aos 15 anos e, por ser solteira, teve de abandonar a escola para criar a criança. Aos 27 ela não tinha qualificações e vivia com a mãe em uma pequena cidade. Era atendente de um serviço de táxi e fazia alguns bicos para complementar a renda, como vender cosméticos no eBay. Um belo dia, para incrementar a venda dos cosméticos, ela criou o site www.Panacea81.com e um canal no YouTube com dicas de maquiagem e agora é um fenômeno global. Os vídeos dela são vistos milhares ou milhões de vezes. No caso de Lauren, não há escala, mas um grande escopo.
Você fala que as empresas têm de ser hiperlocais e superglobais. Essa é outra parte da receita? É o novo “think global, act local”?
O conceito de hiperlocal e superglobal não é como a manteiga que vai bem em todo pão, porém acho que vale a pena sempre pôr essa ideia entre as possibilidades estratégicas. A Local Motors faz exatamente isso: trabalha com pessoas em uma base global, aproveitando a inteligência coletiva ultradiversificada no design de veículos, mas mantém uma filosofia local, produzindo veículos para clientes locais, gerando empregos locais e movimentando a economia local. O Facebook também é assim: superglobal por sua natureza de plataforma e hiperlocal por permitir que as pessoas se encontrem ali e, depois, cara a cara.
As companhias aéreas de baixo custo, que continuam sendo saudadas como grandes inovações, são leves, flexíveis e sustentáveis?
Elas encontraram uma forma muito eficiente de cortar todas as coisas que tornam voar caro, exceto o combustível. Mas, infelizmente, estão fazendo como Rupert Murdoch –tentando controlar todos os aspectos do negócio quando isso não é mais possível e, pior, sem oferecer uma experiência prazerosa aos clientes, que, consequentemente, não prestam sua fidelidade à marca. Acredito que, se outra empresa vier e oferecer ao cliente uma experiência fantástica, uma Ryanair [companhia aérea britânica de baixo custo] vai ter ameaçada sua participação no mercado. Na minha opinião, entretanto, o próximo setor de atividade a ser atingido de maneira drástica pelos efeitos da economia NSL [no straight lines], depois do da comunicação, será o bancário, como eu disse a Jouko Ahvenainen, um dos fundadores da Grow VC.
Quando falamos do setor bancário, um bom exemplo de ruptura NSL não viria da África emergente? O Quênia tem um dos melhores casos de mobile banking…
Com certeza. Acredito que o mobile banking vai transformar nossa sociedade –e de muitas maneiras. Por exemplo, a txtEagle desenvolveu uma plataforma que permite que seus clientes corporativos tenham acesso à maior força de trabalho virtual do mundo –quem tiver um celular pode prestar serviços para a txtEagle. De repente os clientes do banco passaram a contar com a habilidade de uma força de trabalho distribuída geograficamente. Com esse novo cenário, o dinheiro flui por diferentes regiões em um ritmo e escala antes impossíveis.
Como os gestores podem entrar nesse mundo NSL?
Além de participarem ativamente das redes sociais, os gestores devem se lembrar do que [o futurista] Alvin Toffler disse: “O futuro está lá fora, apenas está mal distribuído”. Então, devem olhar para empresas como a Local Motors, que consegue montar carros cinco vezes mais rápido que a concorrência com custo cem vezes menor. Ou observar como a Grow VC, a primeira comunidade-fundo global, é capaz de acelerar a velocidade de captação de fundos de maneiras jamais imaginadas. Ou, ainda, ver os diversos casos de países emergentes, de onde vêm saindo muitas novidades, como a já citada txtEagle, do Quênia, ou ainda a Ushahidi, plataforma que agrupa informações críticas sobre algum fato importante –foi o herói dos recentes terremotos no Chile e no Haiti, como uma ferramenta de gestão de crises de última geração.
ALAN MOORE por Patrícia Timoner
Conheci Alan Moore por intermédio de Tomi Ahonen, especialista finlandês no universo mobile. Alan talvez ainda não seja tão conhecido no Brasil, mas tem ótima repercussão internacional. É tido como grande destilador de problemas complexos, um privilegiado capaz de observar conceitos distintos, das mais variadas fontes, e encontrar a relação oculta entre eles. Não à toa, a Microsoft lhe encomendou, há pouco mais de dois anos, um artigo sobre o potencial e as possibilidades da sociedade mobile. Alan também é famoso por lidar com o marketing construído em comunidades e com conceitos como marketing de engajamento e de cultura participativa.
Quando trabalhava como VP internacional de criação de uma grande agência de publicidade, começou a perceber que a comunicação nas mídias tradicionais deixava de fazer sentido, porque as pessoas do novo milênio querem estabelecer diálogos, participar, relacionar-se, em vez de se manter mais passivamente no final da cadeia de distribuição. Seu mundo não linear, sobre o qual discorre nesta entrevista, é o tema do seu livro, No straight lines.
Britânico, Alan é diretor-executivo do Nicho Mass Media, firma de consultoria empresarial especializada em engajamento e comunicação, sediada no Reino Unido, e professor visitante das escolas de negócios da University of Cambridge e da Oxford University, também nesse país. Entre outros livros, escreveu Communities dominate brands (ed. Futuretext), com Tomi Ahonen, uma das maiores autoridades em mobile.
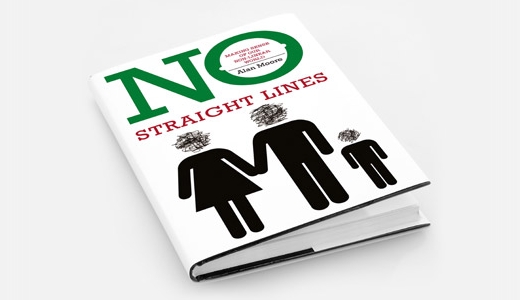
A comunidade Local Motors
Depois de ler o livro Winning the oil endgame (ed. Rocky Mountain Institute), do físico e ambientalista Amory Lovins, o ex-fuzileiro naval norte-americano John Jay Rodgers, neto de um diretor da fabricante de motocicletas Indian, decidiu criar, com o cofundador Jeff Jones, uma montadora de carros diferente.
Os veículos deveriam ser sustentáveis, o que implicava que fossem verdes (não na cor) e locais (criando empregos locais). Com isso em mente e um MBA por Harvard, Rodgers promoveu um concurso online de design de automóveis, que previa diversos tipos de cenários, atraindo participantes do mundo inteiro. O prêmio? Apenas US$ 10 mil.
Hoje, menos de quatro anos depois, a Local Motors é uma comunidade global em que 44 mil pessoas trabalham na cocriação e especificação de distintos projetos. A empresa e todo o processo de negócio são muito transparentes, por meio de modelos de código aberto nas áreas legal, comercial e criativa. Tudo o que faz, incluindo eventos ao vivo, roadshows e festas, é gravado e twittado, postado no Facebook etc., embora essa comunicação online seja apenas a cereja do bolo, já que a sociabilidade integra a empresa de A a Z.
Resultado: ela é capaz de fabricar um carro cinco vezes mais rápido que o usual com custo cem vezes menor. Quando a empresa levou 18 meses para projetar o primeiro carro, alguém perguntou a Jay Rodgers quando começaria a fazer o marketing. Ele respondeu: “Já venho fazendo marketing há 18 meses, no mundo inteiro!”. Como lembra Alan, para você comprar um carro da Local Motors, precisa obrigatoriamente participar do processo de criação. A lógica é que, assim, há menor probabilidade de deixar de pagá-lo, porque você colocou algo de si mesmo no veículo. Seus carros não são absurdamente mais caros que outros voltados a mercados especializados. O Rally Fighter, seu primeiro modelo, está preficificado em US$ 50 mil.
A Grow VC é o novo Vale do Silício, segundo Moore
A Grow VC acaba de completar seu primeiro ano de vida. Foi fundada em fevereiro de 2010 por Jouko Ahvenainen e Valto Loikkanen, que a descrevem como a primeira ferramenta de crowd funding global para start-ups de web e mobile. Um empreendedor pode, por exemplo, obter online um financiamento inicial que varia de US$ 10 mil a US$ 1 milhão. O site tem 2,5 mil usuários registrados em 108 países, o Brasil inclusive. Dentre eles, cerca de 25% são dos Estados Unidos, 11% do Reino Unido e 7% da Índia, e, até o final de novembro de 2010, o total do capital mobilizado ali era de US$ 12,8 milhões.
Alan Moore diz que um dos diferenciais da Grow VC, além de estar em busca de modelos alternativos para arrecadar fundos, é procurar criar valor em vez de destruí-lo, como é comum em venture capitalists, segundo ele. Mas o fato é que ela atende a uma necessidade gigantesca do mercado, uma vez que as empresas de capital de risco convencionais proporcionam pouco fluxo de negócios e privilegiam conhecidos. Para Alan, embora ainda embrionária, a Grow VC e outros negócios equivalentes são o próximo Vale do Silício. “O futuro Vale do Silício não é um local, mas uma plataforma e comunidade online, onde empresários, investidores-anjo e investidores institucionais estão ligados à rede e entre si”, afirma ele.
Outras vantagens oferecidas pela Grow VC são um mercado ao mesmo tempo global e local –e, ainda por cima, transparente– e ferramentas para encontrar empresas pela internet, fazer investimentos nelas e gerenciá-los. A Grow VC ainda tem o apelo de oferecer uma API aberta para que qualquer um desenvolva aplicativos e serviços ali, o que abre a porteira para novos formatos de financiamento e modelos de negócio inéditos. É assim ela que estabelecerá os precedentes dos futuros modelos de financiamento.
Fontes: Youtube, Wikipedia e revista HSM Management. A entrevista é de Patrícia Timoner, Ph.D., consultora em estratégia digital, mobile e marketing interativo. Retornou ao Brasil em 2009, depois de por 12 anos coordenar e lecionar em cursos de graduação e MBA na Austrália.
